Sci-fi contrafactual “Máquinas Como Eu”, de McEwan, explora um ménage-à-trois transhumano num mundo onde Turing chegou vivo aos anos 1980
O futuro (o que ainda não é) e o passado (o que já foi) podem ambos servir como destinações possíveis para as aventuras exploratórias destes cosmonautas da criatividade que são os artistas da ficção especulativa. Tanto o futuro quanto o passado são ficcionalizáveis, a imaginação fabulatriz pode tanto criar amanhãs quanto ontens. Ainda que nossa tendência mais costumeira seja conectar o gênero ficção científica ao porvir, à futurologia, ou seja, às criações artísticas que plasmam em imagens e textos algumas visões do amanhã, também é possível exercer este mesmo ímpeto especulativo-ficcional na direção do tempo pretérito: a pergunta “e se o passado tivesse sido outro, como estaríamos agora?” é um legítimo ponto de partida para uma obra sci-fi que explore as interessantes vertentes intelectuais do contrafactualismo e da ucronia.
Também podemos afirmar que o escritor de ficção não está tão preso aos fatos quanto o historiador: através de um romance, por exemplo, o ficcionista pode construir um passado alternativo, levando às últimas consequências a lógica do “what if?” (“e se?”), de uma maneira que não seria facilmente aceita para um historiador que, para ser considerado intelectualmente honesto, precisa se ater aos fatos documentados, ainda que possa trazer à tona suas próprias interpretações do mesmo e ainda que sempre teça a trama do transcorrido a partir de um certo viés, de um certo prisma, onde muitas vezes há a marca de um certo subjetivismo, de um interesse de classe, de uma cegueira egóica.
O quanto a aventura intelectual humana é marcada por este what if? / e se? foi tema, no começo do séc. XX, de uma obra (publicada no BR pela Ed. Argos) de Hans Vaihinger publicada em 1911 e que atualmente começamos a investigar. Sugere que p filósofo, o cientista, o artista, na verdade todo trabalhador intelectual, pode exercer alguns de seus poderes cognitivos mais importantes ao imaginar outros porvires e outros passados. No caso da prosa contrafactual, o que ocorre é que se parte de um passado que não aconteceu e imagina-se qual porvir poderia ter advindo dele. Pinta-se um retrato de um certo presente que não existe em tempo nem lugar nenhum no exterior da obra (esta constitui-se, portanto, como uma ucronia). E é possível que haja efeitos reais, performativos, reverberações concretas, de uma ficção onde os eventos expostos vão contra aquilo que os historiadores nos apontam como o que factualmente se passou.
Um exemplo que se tornou célebre recentemente: Philip K. Dick, um mestre do sci-fi futurista (Blade Runner e Minority Report são baseados em seus textos futurológicos), também exerceu seus poderes criativos de especulação na direção do pretérito: imaginou, em O Homem do Castelo Alto (1962), publicado no Brasil pela Aleph, um mundo teria surgido da vitória do Terceiro Reich e seus aliados (o “Eixo”) na Segunda Guerra. Neste seu romance, que já tornou-se uma série produzida pela Amazon, “o mundo vive sob o domínio da Alemanha e do Japão. Os negros são escravos. Os judeus se escondem sob identidades falsas para não serem completamente exterminados. É nesse contexto que se desenvolvem os dramas de vários personagens. Ao apresentar uma versão alternativa da história, Dick levanta a grande questão: “O que é a realidade, afinal?” [Sinopse oficial, site da Aleph]



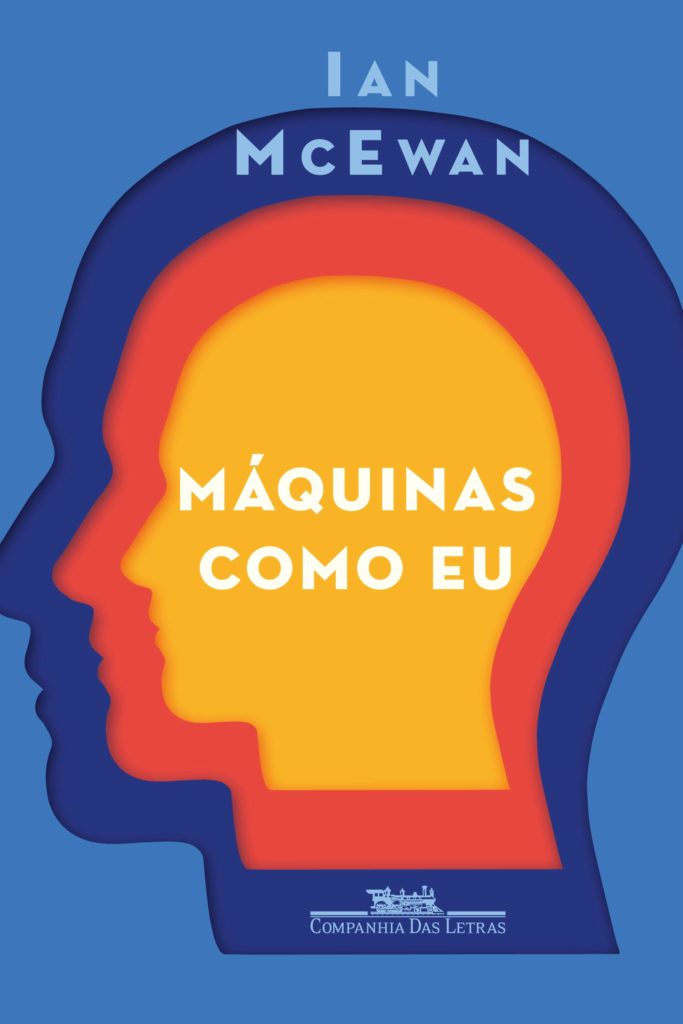
Por sua vez, consolidando-se como um dos gênios da ficção especulativa contemporânea, Ian McEwan investe na fantasia de uma Londres alternativa: em Máquinas Como Eu (Companhia das Letras, 2019, 327 pgs), ele lança o leitor ao começo dos anos 1980, no entanto o autor imagina que a Inglaterra foi derrotada pelos argentinos na guerra das Malvinas, o governo neoliberal de Margaret Thatcher sofreu um colapso com a ascensão do partido trabalhista e eleição de Tony Benn, e Alan Turing – que na verdade suicidou-se com a maça envenenada em 1954 – ainda vive, é casado homoafetivamente e goza de ampla notoriedade como precursor da implementação da inteligência artificial encarnada em robôs domésticos que já estão chegando ao mercado.
Através deste exercício de contrafactualismo, o escritor inglês – responsável por obras-primas como Reparação, Solar, Enclausurado, dentre outras – deseja suscitar nos leitores uma série de reflexões muito pertinentes acerca deste nosso mundo contemporâneo onde a figura do ser humano artificial, do ciborgue, do homo sapiens pós-orgânico e hibridizado com a máquina, marca cada vez mais presença no imaginário social e nas produções culturais, como indicado pela consolidação, como ícones culturais, de Blade Runner ou Matrix, marcando também cada vez mais fortemente as pesquisas acadêmicas através de pensadores como Thierry Hocquet, Donna Haraway e Paula Sibilia, dentre outros.
Nesta sua incursão no terreno da ficção científica, McEwan exercita a sátira através de uma comédia-de-erros, que não deixa de evocar aqui e ali as narrativas dos irmãos Coen, conduzindo o casal de protagonistas Charlie Friend e Miranda a uma desastrosa e tragicômica convivência com Adam – que a princípio não passava de um robô de estimação que não reclamava quando lhe ordenavam que lavasse as louças. A desastrada paixão do robô Adam por Miranda, de consequências que nenhum dos envolvidos anteviu, faz deste estranho ménage à trois uma espécie de cautionary tale McEwaniana.
O livro postula relações sexuais e afetivas que se intensificam envolvendo seres humanos e suas criaturas tecnológicas dotadas de I.A.. Um tema que vem marcando também a produção cinematográfica através de obras como She (Ela) de Spike Jonze, O Homem Ideal, de Maria Schrader, e a série da Netflix russa Better Than Us. Em McEwan, porém, não há sinal de uma ingenuidade otimista como aquela que marca a narrativa de Asimov em O Homem Bicentenário, e o autor revela-se um incansável problematizador.
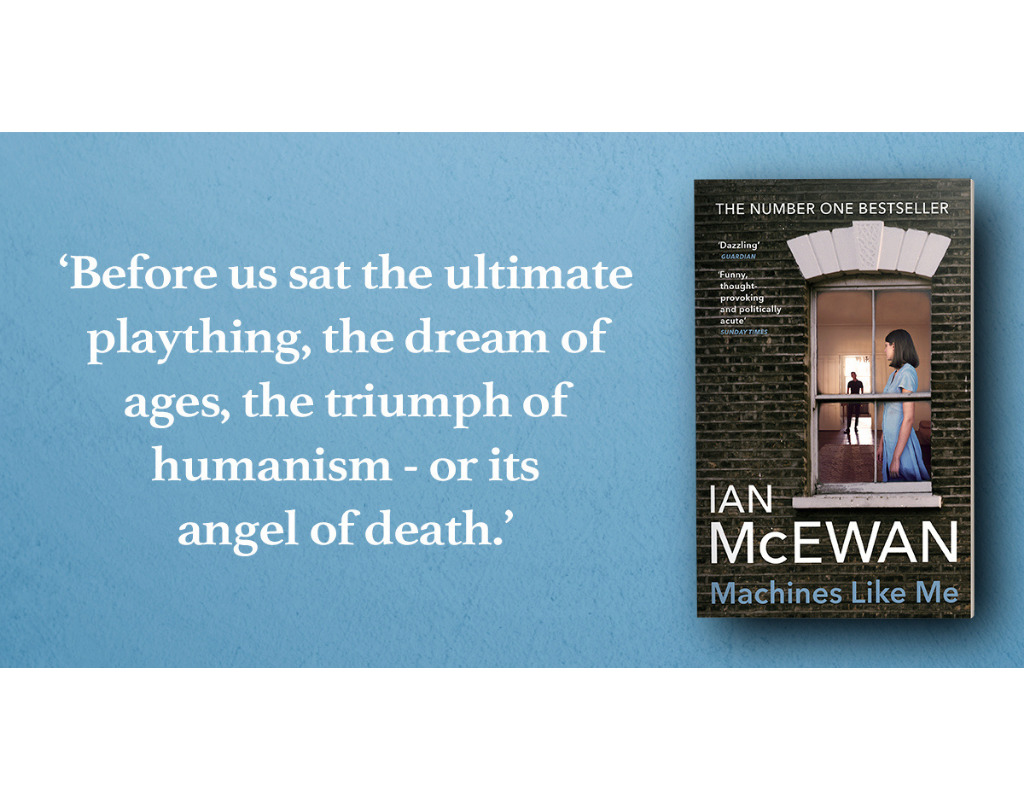
O autor está interessado em frisar a discrepância entre os comportamentos humanos e a lógica fria em que foram programados os Adãos e Evas da era cibernética. A falibilidade dos comportamentos humanos também entra em dissonância com a programação supostamente infalível dos andróides inteligentes. Quando inicia um affair romântico com sua vizinha de cima, a sexy e espevitada Miranda, Charlie Friend nem suspeita que estava se envolvendo com uma mulher encrencada com a justiça: tempos antes, Miranda havia acusado um certo Gorringe de estupro contra ela.
Em seus primeiros momentos de vida consciente, o robô Adam realiza as suas velozes pesquisas na rede, sondando a big data sobre Miranda, e logo alerta seu dono Charlie de que ela é uma mentirosa. Adam diz a seu dono que calculou com confiável credibilidade que a moça não merece confiança. Mas Charlie, apaixonado pela vizinha, entra em tilt com a informação que lhe transmite o andróide e que põe em dúvida a honestidade da moça que ele está tentando levar por quem está apaixonado e que está tentando levar para a cama. Para além de seu drama doméstico, um caos público se desenrola nas ruas da Inglaterra onde a guerra das Malvinas divide opiniões e o desemprego ocasionado pela robotização também polariza opiniões.
McEwan está interessado em problematizações éticas, em como um robô avalia moralmente as ações humanas e age em decorrência deste juízo. A narrativa nos revelará, numa espécie de subplot muito importante para a especulação que está no cerne do romance, que Miranda teve uma amiga que foi sexualmente violentada por Gorringe, e que a vítima do abuso não quis denunciá-lo; a amiga depois acabou se suicidando por efeito deste trauma.
Miranda decidiu então bolar um plano de vingança a fim de punir o estuprador, mas cometendo neste processo uma grave violação jurídica ao prestar falso testemunho contra ele fazendo-se passar pela vítima no lugar de sua amiga morta. Trata-se dê um caso muito debatido por filósofos da ética onde o sujeito argumenta em prol do valor moral da mentira que contou, a partir de uma reflexão consequencialista (por oposição a deontológica) em que o sujeito prevê bons efeitos nascendo do ato costumeiramente julgado como malévolo de mentir.
Porém, a máquina não está apta para compreender estas nuances éticas do comportamento humano e em seu juízo robótico considera que Miranda cometeu um crime, digno de ser denunciado às autoridades e punido com a prisão. Este sagaz ironista que é McEwan, repleto daquilo que na língua inglesa se chama wit, parece querer nos revelar o avesso da utopia doméstica na qual Charlie Friend procurou investir: longe de conquistar uma vida mais confortável, liberando tempo de ócio a ser gozado em aventuras sexuais-afetivas com Miranda, a aquisição do robô Adam acarreta uma série de desgraças.
Este snowball de desastres culminam, afinal de contas, com a I.A. sendo inflexível com os “erros éticos” humanos que foi programada para julgar a partir de parâmetros das ciências exatas, dos algoritmos computacionais, com a sugestão de que andróides dificilmente aprenderiam a reconhecer e aceitar nuances como “a mentira, neste caso, foi um meio para um fim válido” ou “a mentira pode às vezes representar o mal menor”. O imperativo categórico maquínico é de uma inflexibilidade cruel.

Outro elemento muito interessante do livro é a presença de Alan Turing enquanto personagem fictício: o autor imagina o que teria acontecido caso Turing houvesse preferido ir para a prisão ao invés de aceitar a castração química que lhe impuseram na História factual. Apesar de ser hoje reconhecido como herói nacional, pelas suas proezas quebrando os códigos de criptografia dos nazistas, tal como narrado no filme O Jogo Da Imitação, Turing na história factual foi vítima, à semelhança de Oscar Wilde décadas antes, de uma feroz homofobia encampada pelo Estado.
Colocaram Turing diante das alternativas infernais: ou a cadeia, ou a castração química. Hoje sabemos que diante desta encruzilhada Turing preferiu de fato escapar do cárcere e aderir, mesmo que a contragosto, àquela terapia hormonal movida a estrogênio que equivalia a uma emasculação. Processo que lhe foi imposto de maneira autoritária, e que parece estar diretamente relacionado à crise existencial que o levou a suicidar-se com a célebre maçã envenenada. Na história como ela realmente se passou, Turing tornou-se uma vítima do sistema homofóbico e heteropatriarcal, tendo morrido em 1954.
No exercício contrafactual de McEwan, Turing permanece vivo por quase três décadas em relação a sua morte factual, encontrando-se vivinho da silva sauro no presente do livro. O autor atribui à continuidade de sua presença entre os vivos uma descomunal evolução da robótica e da inteligência artificial – vale a pena refletir sobre este what if: como teria sido o mundo se o U.K. não tivesse empurrado este herói-de-guerra e grande inovador da Ciência aos des-rumos que o jogaram no precipício do suicídio? Em outros termos, o que teria sido diferente para toda a humanidade caso a Inglaterra careta, homofóbica, heteropatriarcal não tivesse empurrado Turing para um inferno-na-terra que o empurrou à autodestruição?
Encarando o tema das feridas narcísicas de que Freud nos falou, McEwan sugere que não cessaremos tão cedo de ter nosso narcisismo agredido por nossas próprias criações e descobertas:
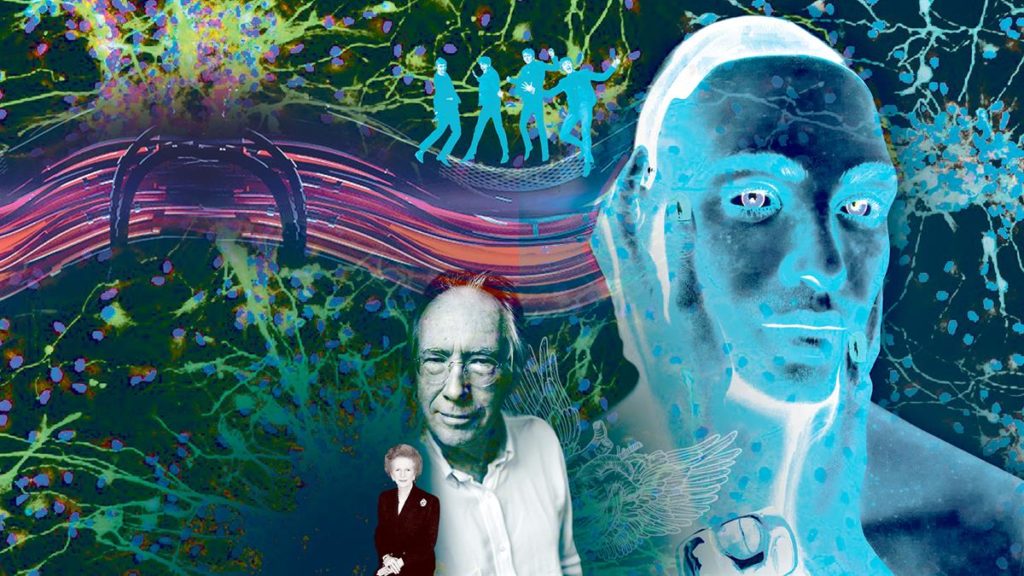
“Era possível ver a história do amor próprio humano como uma série de rebaixamentos rumo à extinção. No passado, ocupamos um trono no centro do universo com o Sol, os planetas e todo o mundo observável girando a nosso redor numa eterna dança de adoração. Depois, desafiando os sacerdotes, a impiedosa astronomia nos reduziu a um planeta que orbitava em volta do sol, apenas uma em meio a outras pedras. Mas ainda nos colocávamos à parte, brilhantemente únicos, designados pelo criador para sermos os senhores de tudo que vivia. Mais tarde, a biologia confirmou que éramos iguais ao resto, compartilhando ancestrais com as bactérias, os amores-perfeitos, as trutas e as ovelhas. No começo do século 20 penetramos ainda mais fundo no exílio quando a imensidão do universo foi revelada e mesmo o Sol se tornou um entre bilhões em nossa galáxia, em meio à milhões de outras galáxias. Por fim, tendo a consciência como o último reduto, provavelmente estávamos certos ao crer que possuíamos algo a mais que qualquer outra criatura na Terra. Porém a mente que no passado se rebelara contra os deuses estava prestes a se destronar devido à sua própria capacidade fabulosa. Na versão resumida, inventaríamos uma máquina um pouco mais inteligente que nós mesmos, e deixaríamos que essa máquina inventasse outra que estivesse além de nossa compreensão. Nesse momento, de que serviríamos?” (MCEWAN, Ian: 2019, p. 92)

Esta especulação sobre uma humanidade que no futuro não serve mais para muita coisa, já tendo criado algo que a supera, evoca um pouco a filosofia de Nietzsche e também a maneira como David Bowie a reverberou e refratou em sua obra, sobretudo em Hunky Dory quando canta que o homo sapiens “has outgrown their use”. O avanço da inteligência artificial coloca no horizonte a humanidade como algo que no porvir estará obsoleto, ou mesmo põe a possibilidade explorada por Matrix de que nossas criaturas podem se voltar contra seus criadores, de maneira a nos tornarmos seus escravos ao invés de seus mestres.
Mas a ironia suprema do livro magistral de McEwan está na sua própria pintura da vida psíquica das máquinas, sua atribuição aos robôs humanóides de características que consideramos típicas dos humanos, como a aptidão para sentir melancolia, para perguntar-se pelo sentido da existência e angustiar-se com sua ausência, e inclusive a disposição para o suicídio. No livro, que tem tintas distópicas, muitos destes protótipos, destes Adãos e Evas, são andróides problemáticos, robôs neuróticos, máquinas suicidas. O personagem Alan Turing explica a Charlie Friend porquê:
“Criamos uma máquina com inteligência e autoconsciência para jogá-la em nosso mundo imperfeito. Desenvolvidas em geral segundo linhas racionais, benevolentes com relação aos outros seres, tais mentes logo se veem em meio a um furacão de contradições… Milhões morrendo por causa de doenças que sabemos curar. Milhões vivendo na miséria quando há recursos suficientes para satisfazer a todos. Degradamos a biosfera quando sabemos que é nosso único abrigo. Nos ameaçamos com armas nucleares quando sabemos até onde isso pode levar. Amamos as coisas vivas mas permitimos a extinção em massa de espécies. E todo o resto – genocídio, tortura, escravidão, assassinato em família, abuso sexual de crianças, mortandade em escolas, estupro e dezenas de violências cotidianas. Vivendo em meio a esses tormentos, não nos surpreendemos quando ainda encontramos felicidade, até mesmo o amor. As mentes artificiais não são tão bem protegidas assim… Não há nada em todos os seus lindos códigos capaz de preparar Adão e Eva para Auschwitz.” (p. 194-195)
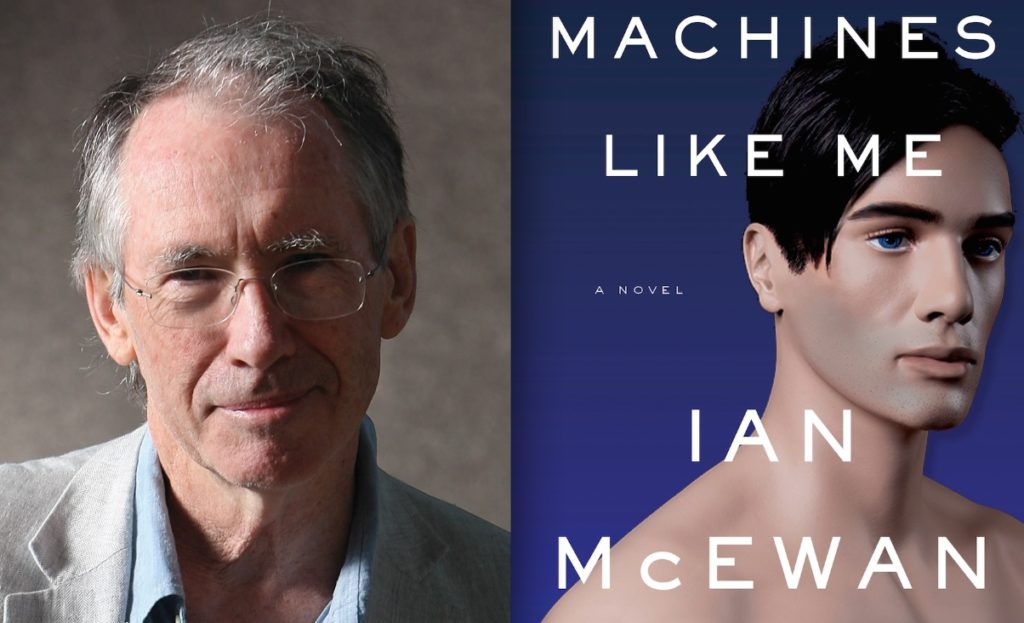
– Eduardo Carli de Moraes
OUTRAS LEITURAS
- Entrevista do autor ao blog da Companhia das Letras
- Matéria da Ilustrada, Folha de S. Paulo
- Leio de Tudo no Correio Braziliense
- Instituto Ling
COMPARTILHE
Publicado em: 22/05/22
De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes




